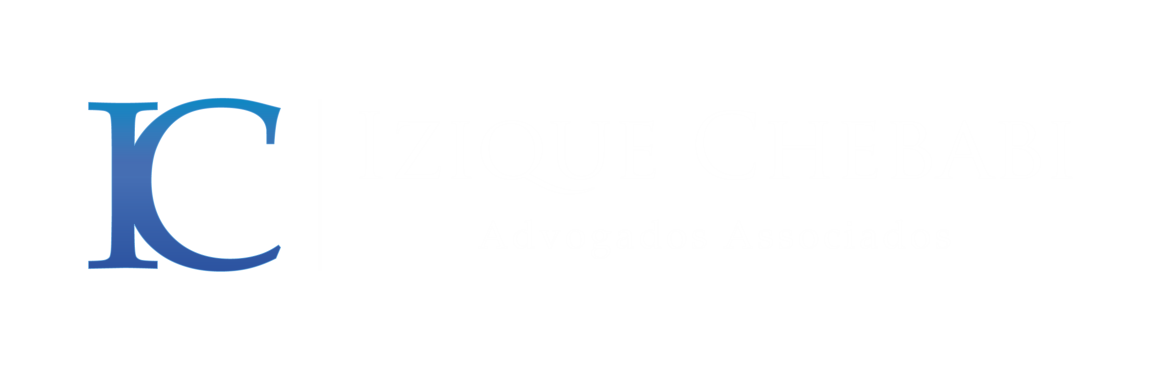A Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, foi criada com o objetivo de responsabilizar pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira. Diferentemente da lógica tradicional, em que a responsabilização dependia de comprovação de culpa ou dolo, a lei adota o regime de responsabilidade objetiva: basta a ocorrência do ilícito para que a empresa possa ser punida, independentemente da intenção de seus administradores.
Entre as sanções previstas estão multas expressivas, a publicação obrigatória da condenação e até mesmo a possibilidade de dissolução compulsória da empresa. Além do âmbito administrativo, a lei também prevê a responsabilidade civil, impondo às empresas o dever de reparar integralmente os danos causados por práticas como fraudes em licitações, suborno de agentes públicos, manipulação de contratos ou quaisquer atos que atentem contra a probidade administrativa.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 2209077/RS, trouxe um reforço significativo à aplicação da Lei Anticorrupção: confirmou que a responsabilidade solidária se estende a controladoras, subsidiárias, coligadas e afiliadas, ainda que tenham ocorrido alterações societárias ou reorganizações empresariais. Em outras palavras, fusões, cisões, incorporações ou mudanças de sócios não funcionam como “escudo” contra as consequências jurídicas de condutas ilícitas praticadas por integrantes do grupo empresarial.
A Corte deixou claro que a responsabilidade não se limita à empresa diretamente sancionada, mas alcança todo o grupo que compartilhe controle ou se beneficie das vantagens obtidas com o ato ilícito. Esse entendimento amplia os reflexos da lei no mundo corporativo e evidencia que a fragmentação societária não pode ser utilizada como blindagem contra ilícitos, exigindo das empresas atenção redobrada a práticas de compliance, governança e due diligence.
As repercussões imediatas desse entendimento no mercado são profundas. Ao estabelecer que todo o grupo empresarial pode responder solidariamente por atos ilícitos, o STJ amplia o risco financeiro e reputacional não apenas da empresa diretamente envolvida, mas também de suas controladoras e afiliadas, mesmo que não tenham participado da conduta. Isso significa que reorganizações, aquisições ou fusões não afastam passivos ocultos, tornando indispensável que empresários invistam em processos de auditoria mais rigorosos antes de concretizar operações societárias. Além disso, a decisão fortalece a importância de programas internos de integridade, já que um deslize em uma das empresas do grupo pode afetar o patrimônio e a credibilidade de todas as demais.
Do ponto de vista jurídico, os reflexos são igualmente relevantes. A interpretação do STJ dialoga diretamente com a tradição civilista da responsabilidade solidária prevista no artigo 942 do Código Civil, que impõe a coautores de ilícitos o dever de reparar integralmente o dano. Ao estender essa lógica para grupos empresariais, a Corte reafirma princípios como a função social da empresa e a boa-fé objetiva, reforçando a ideia de que a atividade econômica deve ser exercida de forma ética e transparente, sem recorrer a expedientes societários para limitar responsabilidades. Trata-se, portanto, de uma aplicação contemporânea dos fundamentos clássicos do Direito Civil às necessidades atuais do mercado.
Esse cenário exige que os empresários olhem para além da lucratividade imediata e incorporem a cultura da conformidade como elemento essencial de sua estratégia. Mais do que atender a uma exigência legal, investir em governança e compliance tornou-se um diferencial competitivo, capaz de garantir a sustentabilidade do negócio e evitar prejuízos que podem comprometer toda a estrutura de um grupo societário.
A decisão do STJ, ao reafirmar a responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo no âmbito da Lei Anticorrupção, sinaliza com clareza que o Judiciário brasileiro não tolera o uso da engenharia societária como mecanismo de fuga de responsabilidades. Para os empresários, a mensagem é inequívoca: prevenir e estruturar controles internos não é apenas uma boa prática, mas uma necessidade urgente para assegurar a continuidade e a credibilidade das organizações em um mercado cada vez mais exigente e fiscalizado.

Marina Ramos Marques – Advogada graduada em 2014 pela PUC-Campinas, com especialização em Direito Processual Civil pela PUC-SP. Cursando MBA na USP/Esalq. Sua área de atuação predominante é a Cível. OAB/SP 363.718